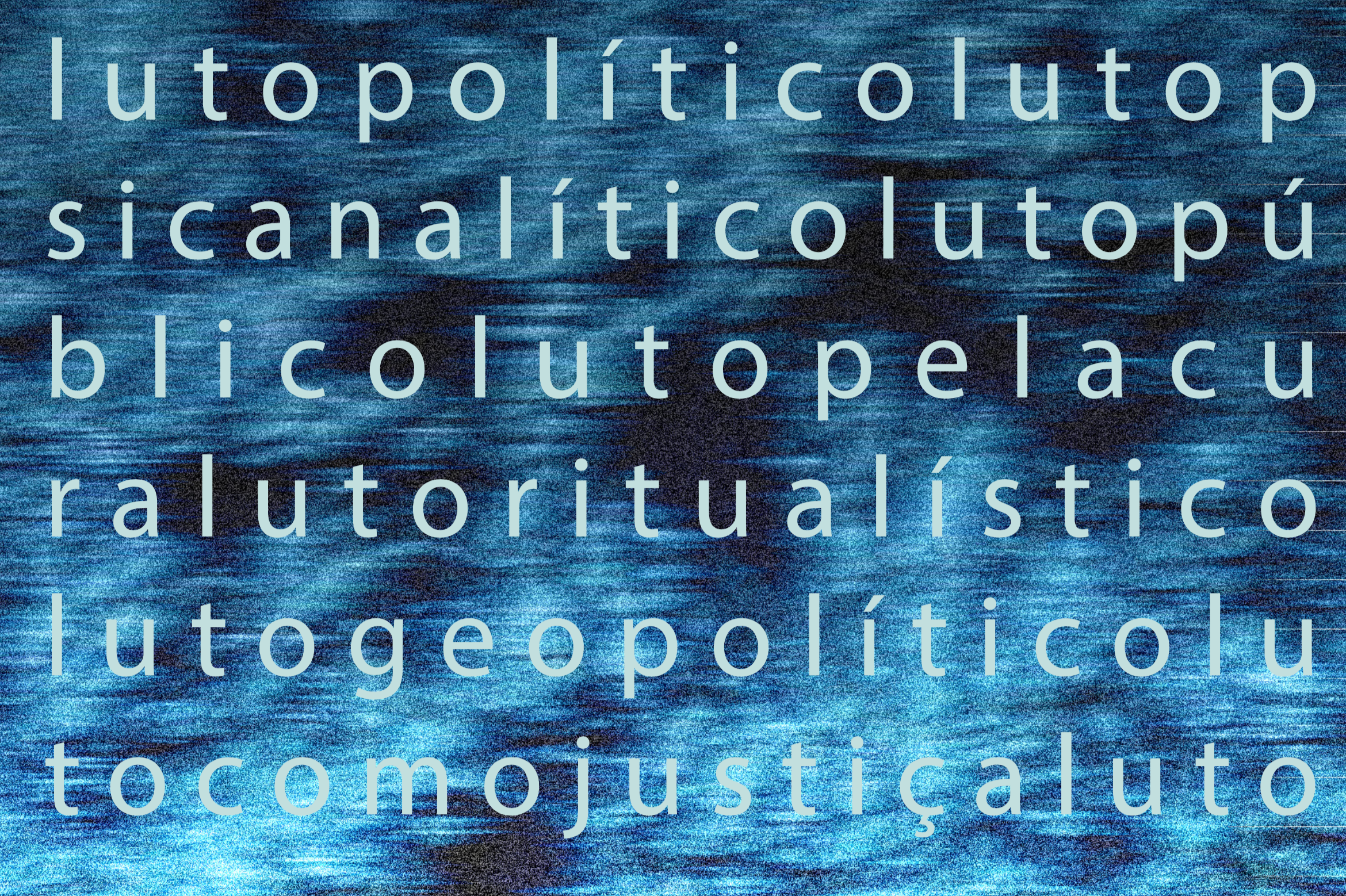
Lutos emergentes: direito à memória - 12/12/2020
O sexto semestre do curso de Arte: História, Crítica e Curadoria da PUC SP, em parceria com a Videobrasil, apresenta a mostra Lutos emergen- tes: direito à memória. A mostra foi concebida e desenvolvida de modo interdisciplinar entre os cursos de Atelier de crítica e curadoria: arte contemporânea, Oficina de texto em curadoria e Produção e divulgação. A partir de um recorte temático do acervo da Videobrasil, o grupo de seis curadores propõe leituras deste conjunto de vídeos e videoinstalações por meio do conceito de luto e suas diversas acepções, assim como discussões acerca da memória cerceada de al- guns grupos sociais em particular.
A curadoria elege o termo emergente le- vando em consideração duas significações in- ter-relacionadas entre si: tanto em seu sentido sócio-político, que se refere às comunidades emergentes da periferia global quanto em seu sentido de fenômeno físico, como algo antes submerso e que agora emerge à superfície.
Partindo do interesse comum de visibilizar lutos emergentes, reivindicando o direito à me- mória de vítimas de assassinatos políticos e se- tores sociais historicamente negligenciados, a equipe curatorial buscou movimentar uma série de questões. Entre elas, quais vidas são passíveis de luto?; que tipo de relação nossa sociedade tem com o luto e com a morte?; quais lutos são rememorados e quais são invisibilizados?; como garantir a grupos socialmente vulneráveis a va- lorização de sua própria memória?. Com base na compreensão de uma dimensão pública contida nas dores privadas, a curadoria oferece múltiplos pontos de vista acerca do conceito de luto.
A exposição foi pensada fundamentando-se em quatro vetores curatoriais: o primeiro traba- lha o luto geopolítico, considerando questões comuns à América Latina a partir dos filósofos Michel Foucault e Georges Bataille. O segundo debate o luto histórico e as possibilidades de re- memoração baseando-se no discurso de Walter Benjamin e Milton Erickson. O terceiro vetor é construído através da concepção de vidas cho- ráveis formulada por Judith Butler e do conceito de necropolítica de Achille Mbembe. Por fim, o quarto vetor baseia-se no luto como perda, pelo viés psicanalítico de Freud e teorias recentes acerca do luto intergeracional.
Os trabalhos escolhidos, tão potentes en- quanto vídeos monocanal como também em videoinstalações, podem ser apresentados em condições diversas. Pensando tanto em sua mul- tiplicidade de exibição, como nas limitações de- rivadas da pandemia de 2020, a exposição foi for- mulada em três formatos distintos: como mostra presencial, como exposição online de livre aces- so e como conjunto de projeções espalhadas pelo campus da PUC-SP, unidade Perdizes.
Compreendendo o tempo em seu caráter não linear, tomamos a obra Pacífico como ponto zero, como início e fim de um ciclo, desdobran- do a partir dela questionamentos relacionados à percepção social, ao campo histórico e suas reverberações contemporâneas. Convergindo pontos comuns, sucessivamente a cada traba- lho, articulamos com o programa de apresenta-
ção das obras uma significativa sequência cura- torial, que busca oferecer intensidades do luto no tempo presente.
Esperamos que Lutos emergentes: direito à memória suscite reflexões e discussões a respei- to do direito individual e coletivo ao luto e con- tribuindo com a recuperação e valorização de memórias historicamente apagadas. Desejamos a todes uma boa mostra.
A Curadoria : Rafaela Soares, Stephanie Guarido, Gustavo Hertz, Dhara Côrte, Giovanna Gregório, Mariana Coggiola
-
O luto psicanalítico e a cura coletiva das dores privadas - Mariana Coggiola
No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o próprio eu. - Sigmund Freud, 1917
Em Luto e Melancolia, obra de 1917 de Sigmund Freud, o autor traz à tona uma distinção essencial entre os dois sentimentos de perda que dão título à obra. Freud percebe que, no estado de melancolia, existe a diminuição significativa da autoestima, fenômeno que situa o indivíduo num ciclo patológico de auto-desprezo. Na melancolia o objeto da perda não se faz claro: o indivíduo sofre pela perda de algo que não é capaz de identificar. No estágio de luto, pelo contrário, o sujeito é capaz de identificar aquilo que perdeu, o que faz do luto um processo de consciência mais avançado do que o estágio melancólico da perda. Na mesma obra, Freud apresenta dois conceitos essenciais ao entendimento da perda: ambivalência e identificação. A ambivalência diz respeito ao sentimento concomitante de amor e ódio inerente ao objeto de afeto, ao passo que a identificação constitui o fenômeno de se enxergar num objeto (projetar-se sobre ele), amá-lo, perdê-lo e depois odiá-lo. Quando o indivíduo não tem consciência do que perdeu, como no estágio melancólico, passa a odiar a si mesmo. Interessa conhecer a teoria freudiana do luto para contrapô-la aos fenômenos sociais que decorrem do impedimento de sua completude. Ao levarmos em consideração suas observações, podemos deduzir que não há completude do processo de perda enquanto o indivíduo não se apossa de suas memórias e experiências de perda, processo que o habilitaria a transpor o estágio melancólico de catatonia e a finalmente, através do luto, transferir seus afetos à um novo objeto.
O entendimento freudiano do processo de luto individual, combinado ao jovem conceito de luto coletivo - inaugurado na psicanálise a partir da década de 60 -, constitui um instrumento útil para análise de diversos fenômenos de repressão social da história contemporânea. Permeado pelos efeitos de duas grandes guerras, genocídios e regimes totalitários, o século XX produziu traumas e máculas na psique de sociedades inteiras, cujas consequências se fazem visíveis através do tipo de dilema vivenciado pelas populações-objeto de episódios históricos traumáticos. A compreensão a respeito de traumas coletivos e luto intergeracional se torna essencial, portanto, para identificação dos pontos de contato entre experiência externa e interna, que podem lançar luz sobre possíveis processos de cura e recuperação psíquica de grupos historicamente fragilizados. É inegável hoje a importância do deslocamento do conceito de luto de uma perspectiva unicamente pessoal e familiar para o âmbito de sociedades, grupos minoritários ou mesmo territórios, ameaçados no contemporâneo por conflitos étnico-raciais e feridas históricas apagadas ou não-cicatrizadas.
Estudos recentes acerca do inconsciente social chamam atenção para a existência de arranjos, restrições sociais e culturais que influenciam, inconscientemente, o comportamento de pessoas, grupos e sociedades. O inconsciente social comporta ansiedades, fantasias, defesas e também forças de ordem socioeconômica e político-cultural, construídos transgeracionalmente por membros de determinadas sociedades. Sendo assim, o inconsciente social se manifesta de modo perceptível em grandes grupos traumatizados, onde o luto por traumas coletivos não pode ser conduzido (concluído), dando origem a ciclos de repetição de conflitos. Estes ódios ancestrais permanecem cristalizados no inconsciente de membros de sistemas sociais afetados por traumas coletivos. Buscar pela elaboração traumática de episódios historicamente perturbadores é fundamental como mecanismo de interrupção destes ciclos repetitivos.
O fenômeno de luto social interrompido ou irrealizado possui desdobramentos particulares na América Latina. O trauma vivenciado no decorrer das ditaduras militares e a necessidade de revelar um passado de torturas e desaparecimentos marcaram profundamente o continente nas últimas décadas. As atividades de terapia psicossocial conduzidas no Brasil através da Comissão da Verdade, acompanhadas pela psicanalista Maria Rita Kehl, permitem o início de elaborações a respeito do luto social produzido pela ditadura militar. Fundada por Dilma Rouseff em 2011, a comissão investiga violações de direitos humanos operadas no Brasil entre 1946 e 1988. Ao permitir que um passado abusivo seja testemunhado, compartilhado e reconhecido publicamente, o trabalho da comissão viabiliza o imprescindível processo de luto coletivo no país. Outra particularidade que deriva das ditaduras latino-americanas é a ocorrência dos desaparecidos políticos. Por nunca terem sido localizados ou oficialmente dados como mortos, estes desaparecidos não podem ser socialmente reconhecidos, enterrados ou mesmo adequadamente chorados. Talvez o exemplo mais expressivo de organização civil com relação a este tipo específico de luto seja o das Mães de Maio, que coletivamente trabalham a memória de seus filhos perdidos, cujo paradeiro segue desconhecido até os dias de hoje. À parte das ações pontuais recentemente conduzidas por poucas organizações governamentais e civis, o luto vinculado aos sangrentos episódios políticos da América Latina segue ainda suspenso. Em função do desconhecimento do destino destes desaparecidos, o luto é perpetuamente inconcluso: a transcendência do estado melancólico de catatonia e auto-desprezo para o processo curativo de luto torna-se impossível. Por não conseguirem dar início ao processo de luto normal, aqueles que sobrevivem tornam-se impedidos de prosseguir com a vida em função do sequestro de suas memórias e apagamento deliberado de informações sobre os presumivelmente mortos. Quando nem a morte e nem a ausência é oficialmente confirmada, os desaparecidos passam a pertencer a uma categoria especial de pessoas, que assombram seus entes queridos com angústias e dúvidas permanentes. Estes sentimentos comprometem o universo simbólico e pessoal daqueles que não podem chorá-los, impedindo-os de transitar naturalmente entre os estágios de perda, superação e reconstrução da vida individual e coletiva.
Considerando a importância da permissão à elaboração coletiva do luto, os artistas apresentados na presente mostra propõem abordagens particulares para alguns dos episódios historicamente traumáticos vividos coletivamente nas décadas recentes. Em Pacífico (2014), correntes se encontram e se chocam na vista aérea do noturno oceânico apresentada por Enrique Ramírez. Seu título, que designa o oceano por ele captado em vídeo, carrega consigo também o sentido de calmaria, que se opõe ao conflitivo e violento episódio histórico ao qual o artista alude. A obra é um aceno aos eventos ocorridos durante a Operação Condor, levada à cabo no Chile ditatorial, que constituiu um dos episódios de execução em massa mais violentos do séc. XX. O lançamento de corpos de opositores do governo Pinochet ao mar, em geral atirados de dentro de helicópteros militares, constitui o pano de fundo das filmagens de Ramírez, numa sugestão de vi- são tangível dos corpos ainda presentes no fundo do oceano. A obra não possui som, apenas imagens. Trata-se de uma resposta silenciosa e convite à reflexão acerca dos eventos violentos de um passado recente. O fluxo marítimo contínuo, que pode provocar sensações de relaxamento e contemplação, é também aquilo que encobre corpos jamais enterrados, numa tensão perpétua entre morte misteriosa e luto inconcluso. Dois minutos e quarenta e cinco segundos é o tempo que uma pessoa comum, em média, suporta sem respirar embaixo d’água. Esta também foi a duração escolhida pelo artista para sua obra, que promove um lembrete da experiência individual contida dentro do afogamento em massa – o tempo que o próprio observador resistiria vivo caso fosse lançado ao fundo do oceano. Ao final da obra, Enrique insere a frase “People are places and carry their land with them”: Pessoas são lugares e carregam consigo sua terra. O oceano pacífico é aqui tanto o maior corpo d’água do planeta quanto a maior cova aberta, é corpo revolto dos assassinados políticos, numa unidade fadada a ser sempre instável, sempre inquieta e ainda encoberta.
O problema do luto inconcluso e silenciado também se faz presente na obra How green the calabash garden was (2017). Através de registros de um diálogo despretensioso com um agricultor de Buon Ma Thuot, região central do Vietnam, o diretor Quy Minh Truong recupera memórias do genocídio operado pelo Khamer Vermelho no decorrer dos anos 70. Tendo como pano de fundo um bucólico e frondoso jardim de cabaças, o diretor traz à tona contrastes entre a paisagem tranquila do quintal do protagonista e as memórias sangrentas que dali emergem. A impossibilidade do esquecimento completo é um tema que paira pelo diálogo, onde uma espécie de parto da memória é viabilizado por meio de desenhos, conversas e regressão entre os dois homens.
O caráter simbólico do jardim de cabaças se faz notável quando observamos as qualidades desse vegetal: fibrosa, tóxica e imprópria para consumo, a cabaça parece aludir ao período de fome generalizada que assolou o país durante o regime do Khamer, e ao mesmo tempo representar o fruto de um ambiente fértil e idílico que se avizinhava às valas comuns abertas ao longo da estrada que margeia a propriedade. O trauma vivido pelo o agricultor se expressa, modestamente, na revelação de sua incapacidade de consumir carne. A memória indigesta dos cadáveres à céu aberto tornou impossível a ideia de comer os animais que antes integravam sua dieta, uma vez que a imagem dos sapos e enguias se enveredando por entre os cadáveres prevalecia sobre seu apetite. Ao revelar que não comeu carne de 1979 aos anos 2000, o agricultor parece sugerir uma ideia de superação do luto: no ano de 2016 é possível, para ele, resgatar sua dieta. E talvez, com isso, também algumas de suas memórias.
Contradições e confusões marcam o curso do depoimento. A memória individual do agricultor, liberada pelo diálogo e pela construção conjunta da memória coletiva, parece emergir e ganhar forma após um longo hiato de repressão. O agricultor aborda a narrativa do período brutal por ele atravessado ora com frieza e apatia, ora com pesar e desgosto visíveis, sobrepondo sua regressão com desenhos simples e esquemáticos. Esses desenhos, imbuídos de formas de representação infantis, parecem lançar luz sobre a experiência que se deu tão longe e tão perto, simultaneamente. Nas palavras do agricultor, reviver constantemente a experiência da barbárie é algo que inviabiliza a vida, e por isso ele parece querer manter uma distância segura de suas lembranças mais cruéis. Ao mesmo tempo, para ele, é preciso lembrar para que nunca se esqueça onde aconteceu o erro. Como o vulcão adormecido que conclui o ensaio visual, a filmagem e conversa carregam aparência tranquila. Ambos escondem uma atividade violenta sob sua superfície. A memória e o luto são aqui o próprio vulcão adormecido: paradoxalmente sempre dormentes (velados) e sempre ativos.
A transição da melancolia para o luto num âmbito social amplo permite que grupos marginalizados e em estado de vulnerabilidade insuflem suas trajetórias de sentido, ganhando consciência e agência sobre seus próprios destinos. Quando não há luto, não há espaço para o novo e nem para a sobrevida comum. A permissão ao luto produz uma sociedade mais sadia e mais consciente de si, além de mais autônoma e coletivamente emancipada. Através de elaborações traumáticas coletivas, manifestadas tanto via ex- pressão artística quanto via elaboração teórica, é possível transcender a dor e o silêncio particulares, transformando histórias individuais e isoladas em histórias compartilhadas e finalmente assimiladas pelo conjunto social.
-
CLEWELL, T. Mourning beyond melancholia: Freud’s Psychoanalysis of loss. JAPA 41 ed. Kent State University, 2012.
FREUD, S. Mourning and melancholia. Standard Edition 14: 243–258, 2015 (1917).
PENNA, C. Investigações psicanalíticas sobre o luto coletivo. Cad. Psicanálise - CPRJ, Rio de Janeiro, v. 37, n. 33, p. 9-30, jul./dez. 2015.
-
Curadoria, Produção e Projeto Gráfico
Dhara Côrte, Giovanna Gregório, Gustavo Herz, Mariana Coggiola, Rafaela Soares, Stephanie Guarido
Parceria Institucional
Acervo Videobrasil
Professores Orientadores
Cauê Alves, Christine Mello e Marcus Bastos
Agradecimentos
Ruy Luduvice, Solange Farkas
